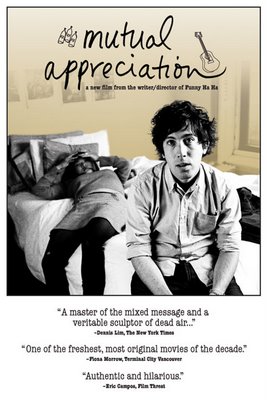"Para ficar sábio é preciso ser discípulo da morte.
É preciso olhar para o abismo face a face, para compreender que o outono já chegou e que a tarde já começou. Cada momento é crepuscular. Cada momento é outonal. Sua beleza anuncia seu iminente mergulho no horizonte.
São apenas duas as coisas que a morte nos diz de sua beleza crepuscular, resumo de toda sabedoria: Tempus fugit, portanto, Carpe diem."
RUBEM ALVES, As Cores do Crepúsculo
- um tributo -
Sem sombra de dúvida, A Sete Palmos foi a melhor série de TV que eu já vi - a que mais marcou, a que eu mais adorei (sem reservas! incondicionalmente!), a que tem os personagens mais queridos... Pra quem não conhece, apresento: criada por Alan Ball (o roteirista vencedor do Oscar por Beleza Americana) e produzida pela HBO americana, a série retratou a vida de uma família dona de uma casa funerária. Foram 5 temporadas, 63 episódios, alta qualidade all the way. A Sete Palmos falou sobre a vida e sobre a morte, sobre o amor e ódio, alegrias e tristezas, tragédias e comédias, sempre de um modo poderoso, intrigante, corajoso, inteligente, sensível, reflexivo, poético, bem-humorado, doloroso e mais trocentos outros adjetivos do Bem... Pra mim, isso aqui é infinitamente superior a 98% de tudo o que é produzido na TV atualmente. Mais que isso: foi uma das melhores coisas que eu já vi em termos de audiovisual. Mais ainda: é uma das OBRAS DE ARTE que eu mais admiro dentre todas que já conheci, incluindo aí literatura, música, cinema, pintura e tudo mais. Se A Sete Palmos fosse um filme (um filme de 63 horas de duração!), seria o melhor filme que eu já vi.
* * * *
Morrer é muito fácil. Ficar imaginando todos os diferentes modos de morrer é uma experiência que pode ir até o infinito. Um vaso que se rompe no meu coração. Um tijolo que despenca de uma construção. Um carro em alta velocidade que me pega desprevenido numa esquina. Uma bala perdida achando um alvo na minha cabeça. Um vírus, bactéria ou ameba que, de uma hora para outra, invade e corrói por dentro o meu corpo. Um assalto na esquina de casa e uma punhalada no meu peito por uma nota de 10 reais. Um tropeção e minha cabeça se chocando contra uma quina. Morrer é tão, mas tão fácil...
É simples assim: de repente, sem aviso, sem volta, tudo pode se acabar... Estaremos vestindo o paletó de madeira, clientes de ouro de uma casa funerária, prontos para sermos jantados por microorganismos em nossa fedorenta morada eterna, debaixo da terra... C'est fini.
Verdades cruéis que seria preferível esquecer, certo? Verdades que é melhor enterrar, não notar, não reconhecer... Mas não: A Sete Palmos não permite essa cegueira. Quem entra nesse universo vai ter que se confrontar com a Morte - porque ela, aqui, é Onipresente. Quem penetra no universo de Six Feet Under tem que olhar face a face pro abismo. E quem sabe isso não é importante?
Os começos de episódio, todos eles, sempre retratam uma morte - algumas vezes com uma crueza total, algumas com um humor negro sutil... - acabando por constituir um repertório imenso de mortes. Mortes estúpidas e absurdas, repentinas e cômicas, bizarras e angustiantes... mortes de todos os jeitos. O efeito geral, quase sempre, é nos fazer sentir na pele aquela terrível angústia de sentir: caramba, como a vida é idiota! Como nossos corpos são frágeis! Como é fácil morrer!
Six Feet Under tem esse lado meio "sádico", revoltado e completamente anti-kitsch: é o tipo de obra de arte que quer trazer à tona, sempre, tudo o que a vida tem de difícil, de absurdo, de grotesco e de revoltante. E isso numa série de TV americana é um prodígio. Quase um milagre. Porque existem poucas coisas mais kitsch em todo o domínio da produção cultural contemporânea do que os seriados americanos, falando em geral: eles conhecem com perfeição a arte de varrer pra baixo do tapete tudo que é feio, sujo ou angustiante...
E uma das coisas que me dá asco na maioria das séries de TV e nessas nojentas sitcoms e novelinhas americanas é que tudo ali é asséptico, higiênico, limpinho; tudo feito só para divertir; tudo pensado como mero passatempo. Não foi feito pra mudar a vida de ninguém nem pra servir como expressão espiritual de um artista criador; foi feito pra ver, fazer rir e esquecer. Tudo volátil.
Eu sou um chatão, eu sei, mas não consigo ver lá com muito bons olhos algumas séries super adoradas que um monte de gente fica babando ovo por aí. Por exemplo, pra pegar dois pesos-pesado: Friends e Sex And The City. Consigo curtir as duas, claro - não sou assim tão metido a profundo que num goste de uma idiotices de vez em quando. Dou minhas risadinhas com elas. Passo alguns minutos legais frente à telinha. Mas é só.
Friends, pra mim, depois de um tempo, ficou parecendo uma asquerosa festinha histérica de uns yuppies burguesinhos irritantes. Me deixa meio puto tudo que é alegrinho demais... Me irritam aquelas risadas falsas a cada 15 segundos, no fim de quase todas as falas, nos induzindo a responder com riso ao riso, como ratos de laboratório (estímulo -> resposta, estímulo -> resposta...). No mundinho artificial de Friends, ninguém nunca sofre de verdade, ninguém nunca morre do nada, ninguém passa fome em todo a galáxia e não existiram nem Auschwitz, nem Hiroshima, nem Guerra do Iraque nem mortalidade infantil monstruosa na África nem nada de FODIDO. E aqueles putos sempre têm uma frasezinha espertinha e engraçadinha para dizer! Sempre ficam exibindo como eles são cools e simpáticos! A vida não é assim. A minha pelo menos não é. E nem tenho vontade que seja. Deus que me livre de desejar uma vida parecida com a de Ross, Chandler, Monica e todo o resto daqueles personagens uni-dimensionais, mecânicos e yuppiezados...
Já o Sex and The City (mas eu devo dizer que só assisti uma meia dúzia de episódios, depois enchi o saco...), quase sempre está muito contaminado com um certo cinismo que me dá um nojo danado. Não gosto de ver o mundo como um gigantesco açougue onde tudo é sexo, vaidade, ambição, falsidade, competição, sedução e luta por popularidade... E tem todo aquele lance do glamour, do mundo da moda e da alta costura, umas burguezices nojentas que me dão engulhos... Aquilo lá é um "retrato da nossa geração"? Uma geração que acha que o Amor não existe, que tudo é "pegação" e que homens e mulheres só devem usufruir dos corpos uns dos outros, e nada mais? Se essa é minha geração, i want out! Não gosto de ver o "romantismo" reduzido à piada e o cinismo erguido ao status de "coisa cool". E aquelas minas, tifalá, como conseguem ser um pé-no-saco... Aquela tagarelice toda, aquelas fofoquinhas, aqueles risinhos bestas! Não dá nem pra comparar o quanto eu AMO a Claire Fisher, a Brenda ou mesmo a Maggie de A Sete Palmos em comparação com as 4 chatinhas do Sex and the City.
Enfim: pra mim essas séries americanas, em geral, soam afetadas, artificiais, fúteis, metidas a espertinhas, mas sem profundidade, sem veracidade. Eu nunca consigo acreditar que aquelas coisas em Friends ou Sex and The City são pessoas de verdade: eles são construções fictícias. Elas cheiram a farsa. E eu não gosto deles nem um pouco quanto comparados com o quanto eu gosto dos Fisher.
No fim, quando acabo de ver um Friends, um Seinfield, um Sex and The City ou um Lost, fico achando que todas essas séries (e quase todas as outras, claro...) são ridículas, babacas e completamente falsas e superficiais quando comparadas com A Sete Palmos. Porque A Sete Palmos é a COISA REAL. A Sete Palmos não é televisão: é OBRA DE ARTE. A Sete Palmos não é entretenimento, diversão ou passatempo: é a VIDA retratada como ela é, cruamente, sem disfarces, sem concessões. A Sete Palmos é tudo o que a televisão deveria ser se prestasse.
* * * * *
A Sete Palmos é uma obra de arte que leva até a obsessão a mania de lembrar ao espectador aquelas verdades amargas da existência que preferimos ignorar. Todos vamos morrer um dia - eu, você e todo mundo que nós conhecemos. E os que não conhecemos também. E os que ainda vão nascer. E não podemos escolher a hora ou o jeito de nossa morte. Não podemos exigir um adiamento, uma sobrevida, uma nova chance... Ao contrário do que Bergman pôde imaginar no clássico O Sétimo Selo, quando a morte vêm não dá pra convidá-la prum jogo de xadrez e ficar enrolando: ela já chega dando xeque-mate.
O bom é que Six Feet Under nunca cai na "morbidez", no niilismo, na negação da vida. Muito pelo contrário: isso aqui é uma obra de arte afirmativa, que glorifica os esforços humanos para superar as dificuldades, transformar relacionamentos, viver de modo mais genuíno, mais verdadeiro e mais compassivo. E principalmente isso: Six Feet Under luta contra a REPRESSÃO DA MORTE nas nossas vidas. Porque é importante saber. Rubem Alves diz bem, e Camus com certeza iria concordar: "Pra ficar sábio é preciso ser discípulo da morte". É preciso manter na consciência que nosso tempo é pouco e que podemos morrer a qualquer momento - porque só aqueles que sabem que vão morrer conseguem aproveitar direito a vida que têm. Quem se acha eterno pode sempre ir deixando pra depois...
E eu acho que a arte já realizou algo de muito importante se conseguiu enfiar na nossa alma a angústia de saber que vamos morrer - essa angústia é uma angústia benéfica, criadora, vivificante! Six Feet Under faz essa benfeitoria: não nos deixa esquecer jamais, em um só episódio, que o cemitério ou o crematório é o destino final de todos nós; que um dia será o nosso corpo que estará ali naquela mesa de casa funerária, sendo embalsamado, retocado e preparado para a última exposição antes do banquete dos vermes; que somos criaturas passageiras, viajantes num barco que naufraga, e que não há tempo a perder.
O Rubem Alves tem uma frase que eu acho genial e que frequentemente me voltava à mente enquanto eu assistia A Sete Palmos: "os olhos dos vivos tocados pela morte são puros", diz ele, "porque a morte faz desaparecer do quadro tudo o que não é essencial". E isso é o mais genial nessa série e nesses personagens, ainda mais por se tratar de uma série americana, sendo que a América é o paraíso da futilidade e da superficialidade: o fato de que eles não tem nenhuma paciência ou gosto por bobagens ou por um estilo de vida baseado em "passatempo e diversão"; nada aqui cheira minimamente à complacência para com a sociedade de consumo ou com a indústria cultural que nos quer rindo como idiotas frente à televisão enquanto o Primeiro Mundo enraba o Terceiro e deixa 2 bilhões de pessoas na miséria. Os personagens de A Sete Palmos são "puros", no sentido Rubem Alves da coisa, porque a morte lhes ensinou o que é importante e o que não é.
Outra coisa: poucas séries na história retrataram relacionamentos amorosos de um jeito tão verossímil, com personagens tão densas e diálogos tão bons. O namoro e casamento de Nate e Brenda, por exemplo, é como que uma versão revitalizada e moderna do Cenas de um Casamento do Ingmar Bergman, a mini-série de 6 capítulos que o genial diretor sueco escreveu e dirigiu nos anos 70. Nate e Brenda passam pelo céu e pelo inferno, pela hostilidade mais raivosa até o entendimento mais completo, da mesma maneira que Johan e Marianne, os protagonistas de Bergman, experimentavam as diversas marés do relacionamento. E aí fica claro que uma das maiores vantagens que as séries possuem sobre os filmes é a possibilidade de acompanhar personagens por um longe período de tempo, retratando relacionamentos humanos de longa duração, o que o cinema, pela concisão que é exigida pelo meio, normalmente não permite.
A Sete Palmos não tem nada de consolador - mas é claro que a função das grandes obras de arte nunca foi consolar, dizer que a vida é magnífica e que tudo vai acabar dar certo. Pra isso inventamos a religião e a televisão - ou melhor, quase tudo na televisão. E eu adoro o modo como em nenhum momento dessas 5 temporadas e desses 63 episódios A Sete Palmos se torna "subserviente" ao público. Nunca há a preocupação de passar uma mensagenzinha consoladora e "edificante". Nunca se cria uma solução conveniente, um final feliz, uma resolução perfeita. Não.
O modo como alguns dos personagens principais são massacrados por tragédias e sofrimentos é completamente sem remissão. Essa é uma série que tem os culhões de matar alguns de seus personagens principais com a maior falta de compaixão pelo público - que vai ter que sofrer, sim senhor! A morte de Lisa, a doença de Nate, o sequestro de David, as várias desilusões amorosas da Claire, tudo é sofrimento absurdo e sem justificativa. Dá até pra dizer: Six Feet Under é uma obra de arte existencialista. Merda acontece, e não tem nenhum sentido. As pessoas sofrem, e esse sofrimento não tem porquê. C'est la vie. Se Albert Camus estivesse vivo e curtisse ver televisão (eu duvido: ele tinha muito bom gosto pra querer perder tempo com bobagens...), curtiria A Sete Palmos.
No fim, fica a mensagem: ei, pessoas, vocês não passam de pedaços de carne condenados a apodrecer, vivendo na sala de espera da morte certa, e tudo o que temos, de verdade, pra passar por esse mundo sem cair no completo desespero somos nós mesmos - só temos uns aos outros, o amor e a compaixão entre nós, e só daí tiramos nossa força.
Viva hoje como se você fosse morrer amanhã! Porque, desculpa te lembrar, mas pode ser que realmente morra...